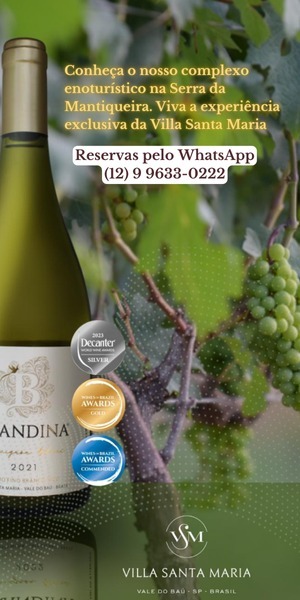Logo após a publicação de um vídeo sobre analfabetismo funcional nas redes sociais, fui surpreendida por uma pergunta direta de uma aluna:
“Professora, a senhora acha que eu sou analfabeta?”
Ela tem dificuldades com leitura e escrita, sim. Troca letras, hesita diante de textos um pouco mais longos, evita se expor quando há leitura em voz alta. Mas também tem dois empregos, paga todas as contas em dia e estuda à noite. Mora em um apartamento simples, mas quitado, graças às faxinas que realiza de acordo com sua própria agenda. Organizada, resiliente, próspera – apesar do sistema.
Foi impossível não refletir sobre o quanto essa pergunta carrega. Não se trata apenas de dúvidas sobre o próprio desempenho escolar, mas de algo muito mais profundo: o impacto simbólico que ser considerado “analfabeto” ainda tem em um país marcado por desigualdades históricas e estruturais.
Os números do INAF e o abismo oculto
De tempos em tempos, o Instituto Paulo Montenegro, por meio do INAF (Indicador de Alfabetismo Funcional), nos lembra de algo que já sabemos na pele, nas salas de aula e nos corredores das escolas públicas: o Brasil convive com um analfabetismo funcional crônico.
De acordo com os dados mais recentes do INAF, aproximadamente 29% da população brasileira entre 15 e 64 anos não possui habilidades mínimas para ler e interpretar um texto simples. Isso significa que quase 1 em cada 3 brasileiros não compreende uma bula de remédio, uma conta de luz ou um aviso de cancelamento de consulta médica.
Mas os dados, por si só, dizem pouco. Eles não revelam a história de quem acorda às cinco da manhã, enfrenta ônibus lotado, trabalha o dia inteiro, volta para casa exausto e ainda precisa encontrar forças para ir à escola. Não mostram o esforço de quem segura um dicionário com as mãos calejadas ou tenta acompanhar uma aula enquanto mentalmente resolve o cardápio do jantar dos filhos. Esse Brasil resistente – que luta contra a ignorância não por falta de inteligência, mas por ausência de acesso e oportunidade – não aparece nas estatísticas com a dignidade que merece.
O rosto por trás dos números
A aluna que me fez aquela pergunta é a tradução viva do Brasil profundo e invisível.
Não há romantização possível na dureza de sua vida. Ela não é símbolo de superação para que nos sintamos inspirados. Ela é uma mulher que, apesar de tudo, resiste. E isso já deveria ser o bastante para que sua trajetória fosse respeitada. Mas não.
O discurso hegemônico ainda tende a tratar o analfabetismo funcional como um problema “do indivíduo”, como se fosse falha pessoal, desleixo ou “falta de vontade de aprender”. E é aqui que mora o perigo.
Porque o analfabetismo funcional é fruto de um projeto histórico de exclusão. Ele não é uma falha individual, mas sim coletiva e estrutural. É resultado direto de um sistema educacional precarizado, de políticas públicas inconsistentes e de um Estado que há décadas negligencia o direito pleno à educação.
Essa aluna, mesmo sem dominar plenamente as habilidades de leitura e escrita, administra sua vida com maestria. Sabe fazer contas, planejar orçamentos, organizar sua rotina de trabalho e estudos, além de lidar com situações complexas da vida cotidiana com uma inteligência prática que não cabe nos testes padronizados. E é por isso que precisamos urgentemente rever nossos critérios de julgamento sobre o que significa “ser letrado”.
Valorizar a EJA é valorizar o Brasil real
A resposta institucional para esse cenário passa, obrigatoriamente, pela valorização efetiva da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A EJA é a porta que muitos brasileiros encontram para retomar o que o sistema lhes negou na infância. Mas ela ainda é vista como uma modalidade de “segunda linha”, subfinanciada, mal compreendida e frequentemente esquecida nos planos municipais e estaduais de educação.
Valorizar a EJA é reconhecer que milhões de brasileiros ainda querem – e precisam – aprender. É entender que alfabetização não tem prazo de validade e que a dignidade passa por reconhecer o tempo de cada sujeito. É garantir infraestrutura, merenda, transporte, formação continuada para professores e, principalmente, políticas públicas que tratem esses estudantes como cidadãos plenos, e não como “casos perdidos”.
Não adianta discursos bonitos sobre inclusão e justiça social se a EJA segue sendo tratada como um apêndice improvisado da escola regular. Quem está na EJA não está ali por escolha, mas por sobrevivência. E são esses brasileiros e brasileiras que sustentam o país com seu trabalho cotidiano e sua força de vontade.
Não é romantização. É denúncia.
Dizer que o analfabetismo funcional tem rosto, nome e história não é romantizar a injustiça.
É escancarar o quanto somos cínicos quando olhamos para os dados frios e não enxergamos quem está por trás deles.
É denunciar um país que segue punindo quem nasceu do lado errado da linha do trem, que insiste em esconder os problemas sociais sob o tapete da meritocracia.
Minha aluna me perguntou se era analfabeta.
Eu poderia ter explicado tecnicamente, com base no INAF, que ela provavelmente está dentro do nível rudimentar de alfabetização funcional. Mas preferi responder com algo mais direto: “Você é muito mais do que isso.”
Porque é mesmo. Porque ela pensa, sonha, organiza, cuida, trabalha e estuda. Porque ela merece que o país olhe para sua trajetória com respeito e responsabilidade.
E porque, no fim das contas, ser alfabetizado de verdade é também ser reconhecido como sujeito de direitos, com voz e dignidade.
O que fazer diante disso?
Nós, educadores, precisamos abrir espaço para histórias como essa. Precisamos rever nossas práticas, incluir metodologias que valorizem os saberes prévios dos alunos, resgatar sua autoestima e fomentar uma educação que acolha – e não que julgue.
Precisamos parar de fingir que a alfabetização termina no 3º ano do ensino fundamental e entender que o letramento é um processo contínuo, que acontece ao longo da vida.
E, principalmente, precisamos escutar.
Porque o Brasil que resiste está falando.
Mesmo que não escreva com clareza.
Mesmo que gagueje diante das palavras.
Ele está dizendo: “Eu existo. E mereço ser ouvido.”
Vanessa Crecci é doutora em Educação pela Unicamp, professora da Rede Municipal de Campinas, escritora, apresentadora e roteirista do canal EducaTV.