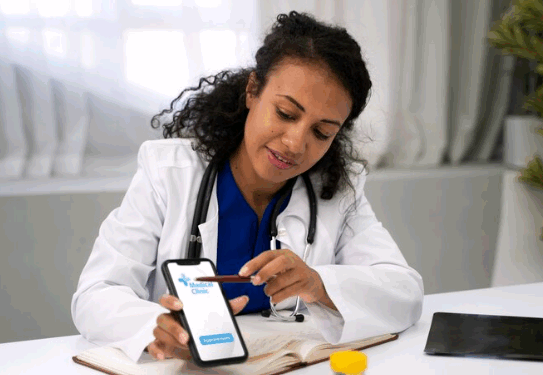É crucial que as pessoas sejam capacitadas a lidar com as ferramentas e plataformas online para se beneficiar das informações verdadeiras e se afastar das falsas na internet. O aumento do letramento digital em saúde da população é uma responsabilidade que deve ser compartilhada por divulgadores científicos, jornalistas, educadores, governantes e cientistas, todos empenhados em difundir conhecimento baseado em fatos e ciência.
Não à toa, iniciamos este texto com essa afirmação que gostaríamos que fosse interpretada como um chamado à responsabilidade coletiva, um chamado ao trabalho conjunto entre diferentes setores da sociedade para o enfrentamento ao fenômeno da desinformação (conteúdos falsos ou equivocados), especialmente no câncer, que é o contexto em que atuamos.
Já tivemos oportunidade de tratar aqui nesta mesma coluna, no texto anterior, do cenário desafiador no qual a desinformação em ambiente digital representa uma constante ameaça, particularmente perigosa para a saúde de atuais ou potenciais pacientes oncológicos, capaz de fomentar conteúdos falsos sobre curas milagrosas e formas de prevenção ineficazes, o que pode resultar em sérios prejuízos, como atrasos na busca por acompanhamento especializado.
Para enfrentar a desinformação, a promoção do letramento digital em saúde (e-health literacy) com base em informações confiáveis são ações éticas incontornáveis, capacitando as pessoas a obterem, processarem e compreenderem criticamente os conteúdos sobre o câncer que estão em circulação online. O letramento digital em saúde não é uniformemente distribuído entre diferentes grupos populacionais, fazendo com que as disparidades se reflitam no cotidiano dos pacientes.
Um exemplo disso se refere aos menos letrados, que enfrentam mais dificuldade no acesso ao sistema de saúde para a obtenção de cuidados. Um estudo brasileiro de 2022 mostrou que o elevado grau de escolaridade e a maior renda se correlacionam com melhores níveis de letramento digital em saúde, endossando que a educação formal é fator importante para que informações ou campanhas que circulam nas plataformas digitais possam ser compreendidas e bem utilizadas pelos usuários. Por isso, a formação continuada de educadores em divulgação científica é essencial, e campanhas educativas devem considerar a diversidade socioeconômica e os diferentes níveis de letramento digital em saúde da população.
A inclusão do letramento digital em saúde como política pública é fundamental. Isso deve começar no ensino fundamental, expondo as crianças aos temas de ciência de forma interativa e envolvente, abordando boas práticas no acesso à internet, por meio de aparelhos eletrônicos e aplicativos, e as ensinando a reconhecer conteúdos desinformativos em circulação. Entretanto, as estratégias de enfrentamento à desinformação que consideram o aumento do letramento digital em saúde não devem se restringir aos públicos infantojuvenil ou adulto. Idosos com câncer, por exemplo, demonstram menor letramento digital em saúde e menos confiança em buscar informações na internet.
Melhorar o letramento digital em saúde capacita pacientes a se tornarem parceiros informados e participativos.
No que diz respeito à formação de jornalistas especializados, é essencial a pulverização de iniciativas e instituições de ensino focadas em comunicação de saúde, que devem se estender para além dos grandes centros (como Rio de Janeiro e São Paulo), com formações regionalizadas que considerem as especificidades de saúde pública pertencentes a cada um dos diversos territórios e comunidades que constituem nosso país.
Universidades, centros de pesquisa e sociedades médicas regionais, entre outros entes, podem colaborar para garantir o rigor científico na formação desses jornalistas e, consequentemente, na disseminação de informações fidedignas. Nesse sentido, o trabalho jornalístico com dados epidemiológicos regionalizados pode contribuir para a oferta de uma cobertura customizada, que trate, por exemplo, em conteúdos de divulgação científica, do motivo de haver uma maior incidência de um tipo de tumor naquela região em detrimento de outro. Dessa maneira, cria-se um ambiente favorável para que formuladores de políticas públicas e tomadores de decisão estejam mais bem informados no momento de entrarem em ação para abordar o problema localmente e, em outra ponta, que a comunidade atendida possa se precaver e agir de maneira mais assertiva em busca de orientação médica.
Por sua vez, os veículos de comunicação que detém plataformas online para circulação dos conteúdos que produzem, nos quais esses profissionais com especialização em saúde atuam, devem dar mais espaço a pautas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de forma contínua, não apenas em casos extremos – como na morte de uma celebridade ou no advento de uma nova terapia –, promovendo a capacidade da população de analisar e aplicar criticamente as informações em seu cotidiano, fixando o conhecimento em circulação. Ainda sobre os veículos de comunicação, a disponibilização de informações confiáveis, verdadeiras e baseadas em evidências científicas é um ato de valor ético inquestionável, especialmente em temas sensíveis como o câncer.
Diante do fato de que a circulação de boa parte do conhecimento atualmente produzido pela humanidade ocorre por plataformas digitais na internet, advogamos pela remoção dos paywalls (aqueles filtros que indicam que o acesso é restrito a assinantes) em matérias de cunho científico, os de saúde notadamente, por veículos de comunicação como uma medida relevante. Ao eliminar essas barreiras, o acesso à informação confiável seria dado e se contribuiria para o letramento digital em saúde da parcela da população com menor renda.
Outras formas de enfrentamento à desinformação são exemplares e merecem ser mencionadas por nós. Agências de checagem de fatos como Projeto Comprova e Aos Fatos, e seções como o Fato ou Fake do portal de notícias G1, ajudam a identificar informações verdadeiras e falsas. Além disso, o surgimento de divulgadores científicos em redes sociais digitais (YouTube, TikTok, Instagram) oferece conhecimento baseado em ciência de forma acessível e divertida, como o canal Nunca Vi um Cientista. As universidades e os centros de pesquisa também desempenham um papel vital com programas de extensão e eventos que aproximam a população da ciência, como o Unicamp Portas Abertas e o Viva Ciência, iniciativas das quais o CEPID CancerThera é participante.
Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) como um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID), o CancerThera, instituição na qual atuamos, abriga equipes colaborativas para lidar com essa realidade, não apenas desenvolvendo radiofármacos para uso no modelo “Teranóstico” – uma inovadora abordagem em Medicina Nuclear, Oncologia, Hematologia, dentre outras especialidades, para diagnóstico e tratamento personalizados do câncer – mas também se dedicando a dissipar o medo infundado da radiação entre a população, frequentemente impulsionado pela desinformação, e contribuir com a educação em saúde.
Estamos, portanto, neste momento, com uma pesquisa em andamento para compreender como os brasileiros buscam, disseminam e são afetados por conteúdos desinformativos sobre câncer, especialmente aqueles relacionados à tecnologia nuclear.
O objetivo final é, com base nos resultados do estudo, promover estratégias e ferramentas de educação e divulgação científica que promovam o acesso à informação confiável para permitir que a sociedade compreenda melhor e se engaje de forma mais eficaz nos cuidados relativos ao câncer. Clique no link a seguir e faça parte deste chamado à ação coletiva, respondendo ao nosso questionário: cancerthera.org.br/participar
Carmino Antônio De Souza é professor titular de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular do DCM da FCM Unicamp. Foi secretário de saúde do estado de São Paulo na década de 1990 (1993-1994), da cidade de Campinas entre 2013 e 2020 e Secretário-executivo da secretaria extraordinária de ciência, pesquisa e desenvolvimento em saúde do governo do estado de São Paulo em 2022. Atual presidente do Conselho de Curadores da Fundação Butantan, membro do Conselho Superior e Vice-Presidente da FAPESP. Pesquisador Responsável pelo CEPID – CancerThera desde 2023.
Romulo Santana Osthues é jornalista científico atuando no CEPID CancerThera e pesquisador de pós-doutorado no programa de Gestão da Pesquisa – Educação e Difusão do Conhecimento da Unicamp. Graduado em Comunicação Social – Jornalismo pela Unesp, fez mestrado em Divulgação Científica e Cultural e doutorado em Linguística na Unicamp. Desenvolve pesquisas em letramento digital e desinformação em saúde, educação e comunicação científica, linguística, fotografia e análise de discurso.